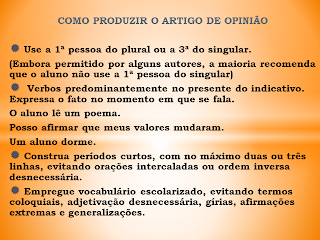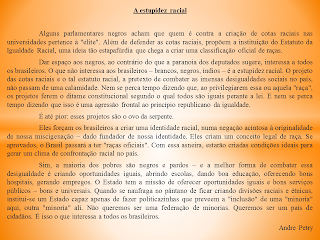A quadra velha
Aluno: Gabriel Batista da Silva
Aqui no lugar onde vivo não tem cinema, lan house, discoteca... aqui tem cavalo, rio,
cachoeira, gente que conta histórias... E, acima de tudo, aqui tem uma quadra. Uma quadra
velha. Velha e pequena, só tem espaço para seis jogadores de cada lado. Uma quadra velha
e pequena onde cabe inteira a nossa imensa alegria.
Ali a bola rola, enrola, rebola, embola, solta, samba, sapateia... Ali vale tocar a bola de
chuteira, de chinelo ou de pé no chão. Ali vale jogar menino, menina, velho, magrela e gordão.
Vale entrar de sola, de carrinho e até de bicão. Vale arrebentar o joelho, arrancar a
ponta do dedão... tem gol contra, bola murcha e bola fora.
O que importa é que quando a bola rola na quadra velha o mundo para. As árvores e as
casas espiam. As pessoas que passam pela estrada de terra não resistem, param, assoviam,
batem palmas. Os moleques perdem a hora que se perde no tempo. Cada pai vê em seu filho
o grande craque e sonha com seu menino na seleção. Quem sabe 2014...
Ali, na quadra velha e pequena, adormece a tristeza, o cansaço, a desilusão... ali os
homens se esquecem dos calos, das dívidas, das dores... ali os meninos são magos, são livres,
são pássaros: transcendem, voam... Ali não tem zero, não tem senão. Só tem bola no
chão. Ali eles são uma bandeira verde e amarela hasteada no sertão.
Isso, até que chega a noite escura e sombria. Ela, revestida de negro, faz arriar o sonho,
despe a fantasia, cala a poesia.
Amanhã tem trabalho, tem escola. Dói o calo, o joelho incha, o moleque chora. E a
quadra fica de fato velha e pequena. Fica ali, triste, silenciosa, no escuro. Fica ali à espera
de que os meninos voltem logo e ressuscitem o momento mágico.
Beleza cega
Aluno: Pedro Kennedy Oliveira de Sousa
Fim de tarde. Saio da escola, satisfeito por mais um dia de aprendizado. Sigo em frente,
passo por todas as avenidas, atravesso as pistas da BR-060 e me dirijo à parada para esperar
o ônibus que me levará para casa.
Passam-se alguns minutos, avisto de longe o número da linha que irei pegar. Dou sinal
com a mão, o ônibus para. Como de costume, está lotado. Entro, e mesmo em pé me acomodo
entre os passageiros, e o motorista segue viagem.
Muita conversa tomava conta do ambiente. Porém, entre todo esse alvoroço, notava-se
um som, que era, ao mesmo tempo, conhecido e estranho. Procurei descobrir de onde vinha
aquele barulho. Olhei para um lado, olhei para o outro, e nada. As pessoas estão tão
aglomeradas que é impossível ver algo.
O ônibus para. Descem dois passageiros. Mas ainda está muito cheio. Desisto de
procurar. Abaixo a cabeça, mas continuo ouvindo todo aquele batuque, que soava no
fundo do ônibus. Então imaginei: será alguma pessoa ensaiando, naquele espaço, uma
apresentação? Será algum show em meio a todos aqueles rostos cansados e esgotados?
Ou será apenas algumas pessoas brincando com o tal instrumento? A dúvida prevalecia.
Novamente o ônibus para. Cerca de quatro ou cinco pessoas descem. A parte da frente
do carro já não tem muitos passageiros em pé. Pago a passagem, passo pela roleta, com a
ansiedade de saber quem era o artista que viajava conosco.
Tento mais uma vez ver quem era... Impossível!
Pela terceira vez o ônibus para. Ponto movimentado, descem muitas pessoas. As que
permanecem, disputam entre si os lugares vazios. O ônibus anda.
Ouço várias vozes e palmas que acompanham atentamente a batucada. Parada à vista,
sei que mais pessoas irão descer, me preparo para ir ao fundão.
O ônibus para. As pessoas descem. Então, olho para a frente e me deparo com um cego
tocando um pandeiro, passando toda a sua alegria ao instrumento.
Enfim, é hora de descer. Estampo um belo sorriso em meu rosto, admirando todo aquele
talento. Desço do ônibus com a certeza de que a verdadeira beleza de Brasília não está apenas
nas curvas de Niemeyer e sim nas pessoas que dão vida à nossa cidade.
Cidade maternal
Aluno: Lucas Martelli de Medeiros Silva
Vivo no sudeste nacional, na Nova Iorque brasileira, a cidade que nunca para. Vivo na cidade
de São Paulo. Durante o dia, suas estradas transformam-se em veias, cada pequeno
cidadão é uma hemácia no fluxo frenético da cidade, cada edifício é uma parte do esqueleto,
sua estrutura; cada janela, de cada prédio, de cada casa, faz parte de sua visão. Vejo os fios
de alta voltagem fazendo ligações entre si, tal como neurônios.
À noite, um novo mundo surge, surge também uma nova cidade. Ouço na batida constante
dos bailes a batida de um coração, no vento que sopra frio e sereno, sua respiração;
nas sombras noturnas e na escuridão, seu lado obscuro.
A São Paulo que possui temperamento forte, cidade que, se fosse gente, seria mulher,
e, como mulher, seria, ou melhor, é mãe, mãe que abriga em seu ventre filhos dos mais variados
sotaques, filhos que vêm de longe, além da serra, além do mar, além do seu horizonte,
além. Cidade, que além de mãe, é o romance de várias e várias pessoas, homens e mulheres,
crianças ou idosos - difícil não se apaixonar por essa bela senhora. Entretanto, difícil
é também não sentir dores no peito, ao ver a face triste da cidade: tristeza, morte, fome,
vidas alienadas...
São Paulo, a cidade que tem uma surpresa em casa esquina, em cada beco, em cada
praça, em cada rua. Que tem mil faces e mil lugares, lugares, muitas vezes, paradoxais,
Édens e Tártaros dividindo o mesmo espaço, onde é comum a miséria andar lado a lado
com o luxo, onde, constantemente, a humildade cruza com a soberba.
Terra da garoa, bebo do seu sangue, nado em seu olhar, respiro o seu perfume, pulso ao
seu pulsar, vivo em seu fluxo que não para um segundo e, a cada novo dia, encontro um
novo mundo.
Descoberta inocente
Aluna: Milene Cristina Alves Cantor
A cidade ainda está acordando. O ônibus para à beira da rodovia e a criança entra pela
primeira vez.
Quando o veículo entra em movimento, o pequeno ser nem tenta imaginar o que o
espera, se atira imediatamente a espiar pela janela.
Estava prestes a descobrir o mundo.
Plantações ainda maiores, de todos os tipos de grãos, indústrias recém-abertas,
comércio recém-chegado e gente recém-acolhida por essa terra de toda gente enchem os
olhos da criança.
Está descobrindo o mundo.
Na cidade, nada de monumentos históricos ou grandes pontos turísticos, apenas pessoas
trabalhando. A criança se vê confusa. Por que a maior cidade do norte, com o potencial de
uma capital, tinha só pessoas trabalhando sem parar? Sem parar ao menos para dizer:
— Como essa cidade cresce!
O tempo vai passando e a criança se torna homem.
À beira da rodovia o homem entra no ônibus, não mais pela primeira vez.
A vista da janela mudou. Vê plantações muito maiores, ruas cheias de lojas, grandes
praças, gente andando em todo lugar.
A cidade ainda não parou para admirar sua grandiosidade, mas agora o homem já entende.
São 120.000 pessoas carregando nos ombros a tarefa de desenvolver uma cidade juntas.
Assim a cidade continua crescendo, conquistando respeito nacional, exportando mais do que a
agricultura pode oferecer, encantando o mundo por estar no peito de um certo “piloto voador”.
Tudo isso para que essa terra continue sendo a cidade que não para de crescer, que
aprende a caminhar por si própria, conquistando novos horizontes como se ainda fosse
uma criança que descobre o mundo.
Entre o céu e a terra
Aluna: Stefany Ohana Cardoso dos Santos
Dizem que aquela estátua gigante fará de Sertãozinho um lugar mais famoso e frequentado
por turistas. Pode até colocar o nome da cidade na previsão do tempo do Jornal Nacional,
onde são mencionadas só as mais conhecidas. O Cristo Redentor “caipira”, como já
foi chamado, será mais alto que o irmão carioca. Será. Mas quando?
Olhando aquele monumento inacabado, dá para imaginar em que estaria pensando o grande
Cristo que repousa ao lado de um pedestal ainda maior sobre o qual não conseguiu erguê-lo a
capacidade humana. Multiplicar os pães e andar sobre as águas realmente são ações divinas.
Aqui estou, como outros, construído em local de destaque para que a homenagem seja
vista ao longe. Onde me colocam sempre me torno, além de objeto de crença, motivo de
orgulho para as cidades que me recebem.
Por enquanto, a única coisa que vejo à minha frente são folhas da mata que me esconde
quase totalmente, mas, ao meu lado, tenho um trono e, quando estiver sobre ele, verei inteira
a cidade que me foi dada para abençoar.
Aguardo o dia em que finalmente verei Sertãozinho do alto e, pairando sobre a imensidão
verde dos canaviais, poderei avistar suas usinas, ouvir suas indústrias anunciando o
novo dia de trabalho e sentir o cheiro do garapão trazido pelo vento.
São quase dois anos de espera. Por que adiam tanto a minha inauguração? Sei que não
faltam pontos de encontro, mas eu também reunirei pessoas ao meu redor que poderão me
visitar e conhecer a prosperidade da cidade que me acolhe!
O tempo mudará minha cor, seja pela fuligem negra da queimada da cana ou pelo vermelho
da terra fértil, porém gostaria que me conhecessem na cor original, antes do tingimento inevitável.
Só me resta aguardar que o trabalho há tanto iniciado seja concluído e até lá continuo
esperando de braços abertos a vontade de quem está de braços cruzados.
Fim de jogo
Aluno: Matheus da Costa Souza
Ver uma partida de futebol é para mim uma alegria sem fim. Bem pertinho da minha
casa tem um campo de futebol. Domingo de jogo fica um agito só. A rua pacata e calma
fica repleta de carros e pessoas que vão ver o jogo. Fervilha de gente na entrada do campo.
Trombetas, tambores e todos os instrumentos possíveis fazem a festa e enaltecem o
simples jogo.
As pessoas que estão nas arquibancadas se agitam a cada gol, sofrem a cada bola na
trave, gritam palavras absurdas contra o juiz a cada vez que ele dá uma punição contrária
ao que elas queriam - nessa até a “coitada da mãe do juiz leva”! A bola rola com gosto e
motivação nos pés dos onze. E lá se vai uma na rede. E o povão grita e se agita e dança e
solta foguetes e toca os apitos contagiantes e os instrumentos, que levam os torcedores ao
delírio. O jogo acaba. Algumas pessoas estão alegres e comemoram a vitória, outras estão
tristes, alguns ficam calados e outros dizem que foi culpa do juiz ou de algum jogador desatento.
Tem também aqueles que nem vão embora, ficam conversando na portaria, debatendo
o resultado final.
Tudo vai voltando ao normal. Os carros vão saindo, as pessoas vão indo. Em algumas
horas, a rua fica praticamente vazia e nua, e a vida para de repente. Tudo vai ficando calmo e
tranquilo e os pássaros começam a cantar a melodia que embala a tarde.
E assim se vai mais um dia de futebol nessa cidadezinha.
O relógio não parou
Aluna: Jéssica Fernanda Feitosa de Melo
Era noite, e eu aguardava o troco do analgésico que havia comprado na farmácia da
esquina. De repente, ouvi aquelas duas pessoas que, pelo sotaque, reconheci que não
eram da minha terra. Diziam, em tom de zombaria, que aqui o relógio parou. Quase não
consegui receber o dinheiro, tamanha a minha vontade de sair de perto delas.
Cheguei em casa e percebi que continuava chateada com aqueles comentários.
É certo que é uma cidade pequena e pouco desenvolvida, mas não é por isso que
tenho de aceitar alguém falar mal dela.
Todos devem ficar sabendo que os ponteiros do relógio também giram por aqui e, se
não existem os shopping centers das grandes capitais, tem as bancas de feira e as lojinhas
onde se pode encontrar belas roupas, que, se não são de última moda, vestem muito bem
as “Giseles” deste lugar.
Fico aqui pensando que na minha terra o relógio não parou, só não possui um Maracanã,
mas possui o Poeirão, que diverte jogadores e torcedores durante as partidas de
futebol nas tardes de domingo.
As horas continuam passando nesse lugar. Só não há teatros, cinemas e boates. A
cultura é passada de pai para filho pela dança do boi e pelo pagode do Zabé Fulô. A juventude
também se diverte nas serestas ao ar livre.
Minha cidade não possui um Parque Ibirapuera, mas os quintais estão cheios de balanços e
gangorras feitos nos galhos das goiabeiras, mangueiras e cajueiros onde a meninada faz a festa.
Aqui o relógio continua funcionando, sim! E, mesmo sem um Cristo Redentor, lá de
cima do Morro da Cruz é possível vislumbrar toda a minha cidade em um só olhar.
Não, o relógio não parou, não! E já se ouve falar em minha cidade de assaltos, assassinatos
e atropelamentos. Seria melhor que o relógio tivesse parado? Não sei.
Ainda há esperança e, antes que eu esqueça, você precisa saber que eu moro em
Regeneração.
O quadrado
Aluna: Larissa Carolina Durings
Planalto do Oeste é pequenina sem ser uma cidadezinha qualquer. A vida na vila vai
devagar, mas eta vida boa, meu Deus! Que o diga um lugar conhecido como “quadrado”.
Um frio quadrado de concreto, que fica à sombra das árvores no quadrado da praça. Em si,
ele não tem graça nenhuma, afinal é apenas um quadrado, mas ele se enche de graça, riso
e calor quando, nos finais de semana – durante a semana também –, o quadrado enquadra
os jovens que tomam conta dele.
Ah, se o quadrado falasse... O quadrado é testemunha da gestação e nascimento de
amizades guardadas a sete chaves dentro do coração e da agonia e morte de outras; testemunha
de bisbilhotices inofensivas e de fofocas venenosas. Testemunha de amores que foram
eternos enquanto duraram; de amores que juraram amor para sempre na igrejinha em
frente à praça, ao som da Marcha nupcial, com imensos e vaporosos vestidos portando
noiva, aias e alianças.
O quadrado assistiu e assiste ao consumo da agregadora bebida chamada tereré – nós
enquadramos o “e” num acento circunflexo: tererê –, de muito refrigerante e dos nada saudáveis
chips – mas quem resiste? –, adquiridos com o dinheiro de democráticas vaquinhas.
Quando eu estudava na escola de Planalto do Oeste, todos os dias, antes do início da
aula, eu e meus amigos estávamos lá, no quadrado, para conversar, terminar trabalhos e tarefas
que tínhamos “esquecido” de fazer, ou estudar para avaliação, para não sermos enquadrados
num outro quadrado: o de alunos relaxados e irresponsáveis.
O quadrado de Planalto do Oeste, geometricamente, é um quadrilátero cujos lados
são iguais entre si e cujos ângulos são retos, mas as figuras que nele cabem não são
iguais, não cabem em nenhuma figura geométrica. São humanos sujeitos às contingências
da humana condição.
Que barulho é esse?
Aluno: Bruno Herklotz
Seria mais uma manhã comum na pacata cidade de Campo Novo do Parecis, mas algo
estava acontecendo de diferente. Eu ouvia um barulho estranho, que chegava a me assustar.
A praça estava lotada de homens, mulheres, crianças e velhos. Parecia muito mais uma
rebelião, mas pela expressão de alegria não era. Isso era mais estranho ainda, pois há tempo
não ocorria nada que chamasse a atenção do povo, nada mais encantava as crianças...
por isso ficava a pergunta: o que estava acontecendo?
Novamente começa o barulho, parecia um apito de trem, pensei até que estava ficando
louco, tendo alucinações, porque até então a cidade era pequena e não tinha ferrovia alguma.
Até que surge do além uma espécie de trem com rodas, uma “maria-fumaça” toda colorida,
iluminada, tocando músicas altíssimas. Pessoas de todas as idades pagavam para
andar naquela geringonça. Como era novidade, também experimentei e até que não era
ruim – bem divertido por sinal.
E assim foi uma semana, era gente disputando vaga para andar no bendito trenzinho que
rodava o dia inteiro pelas ruas, repleto de pessoas momentaneamente satisfeitas e felizes.
Ao final desta semana o trem já estava indo embora da cidade, com os vagões lotados,
não de pessoas, mas sim de dinheiro do povo!
Relíquias
Aluna: Maria Cecília Lopes da Silva
É uma quarta-feira, entre dezessete e dezoito horas. A caminho de casa, entro numa
lanchonete para tomar um suco junto do balcão. Na realidade, queria mesmo era, ao
entardecer, apreciar aquela paisagem que de tão conhecida não era mais vista pelos que
ali passavam cotidianamente, o rio Parnaíba. Passo a fitá-lo. Bem ao lado da feira de
troca-troca um casal de namorados acaba de sentar para recolher da vida diária, talvez,
a minha mesma intenção.
Diante deles e de mim há um rio em ruínas, cuja mensagem de vida, de beleza e de
graça está sendo devastada pela estupidez grosseira do homem. Folhas mortas boiam sem
pressa de chegar ao outro lado da sua margem. Ao tomar meu suco confiro novamente
aquela paisagem e penso que a população ribeirinha, lá pelos lados do Poti Velho, deve
inventar coisas para sobreviver. O rio está paralisado, mais areia que água. Daqui a alguns
anos não existirá mais, e com ele vai embora o tão belo e privilegiado verde de Teresina. A
cidade vai virar apenas um amontoado de concreto armado revestido de flores postiças.
Abstraído em recordações, saio da lanchonete e subo a rua calçada de pedras velhas
e irregulares, coberta de asfalto, ladeada de casas velhas de paredes desbotadas. Olho
para o rio, mais uma vez. Não choro. Contenho as lágrimas enquanto vou subindo pela
Álvaro Mendes.
Vou devagar. Já não há nem a pressa, nem a alegria do passado.
Velha casa
Aluna: Jamila de Souza Azevedo
Macapá é uma cidade linda. Praças, igarapés, linha do Equador, Marabaixo e a Fortaleza
de São José. São maravilhas que encantam este lugar. Mas eis que destaco de todas as
belezas, que é para mim a mais especial: minha velha casa.
Escolhi uma coisa bem simples para falar, pois é o local que considero a primeira maravilha
do mundo: a minha casa, velha e histórica como só ela é. Acolhe-me ao longo de
quinze anos, que para ela suponho que seja um sofrimento bem atordoado, por me aguentar
por tanto tempo. Creio que as minhas pisadas fortes, em seu frágil piso de madeira, já a
machucaram muito.
Descrevo a minha casinha como uma velhinha de mil rugas com suas fracas pernas a me
proteger do amargo calor do sol e da violenta água da chuva.
Imagino que à noite, quando tudo está em silêncio, e eu dentro dela a vagar, ela esteja
a dormir e eu a perturbá-la, escancarando suas portas e janelas para arejá-la.
Ao amanhecer, uma vez mais está suja, precisando de um banho, e a minha mãe vem gritar.
— Vai limpar a casa!
— Já vou, já vou – respondo.
Vou reclamando, resmungando. Pego o cabo da vassoura e passo a agredir minha inocente
casinha, sem refletir, ainda hipnotizada pelo sono.
E, quando saio, olho para trás e vejo a bendita a sorrir, feliz por eu não estar mais ali.
Mas eu irei voltar sempre.
Contudo, há um momento de paz, ela está a me guardar do sereno que a noite faz. Por
isso, é com gratidão que rezo a Deus que não me tire essa velhinha, porque de tudo ela me
ensina. Apesar de ser uma velha casa, jamais ela deixou sua função de lado.
Um nó na garganta... Um grito...
Aluna: Samyla da Silva Nogueira
Ouço a voz da violência; escuto o barulho de um tiro... vejo pessoas gritando... fica-me
o pensamento em agonia, pela aflição de imaginar: “Poderia eu ter sido atingida por uma
bala à procura de um destino”.
Na vida, tudo se pensa. Só não pensei que esse cenário dramático se armaria no meio
do sertão, numa cidadezinha de interior que, para a violência, vendeu suas tradições pacíficas,
a sua paz.
Porém, mesmo sendo atingida pela “globalização da violência”, a minha cidade, em alguns
aspectos, reage e consegue registrar em sua memória novos contos de amizade e
práticas tradicionais de “curtição” e entretenimento.
O estranho é que até os lugares destinados a festas e confraternizações têm se transformado
em palco de brigas e desassossego! E o que era “a graça de curtir a vida” virou
“curtir a desgraça”.
O nó na minha garganta é expressado nos versos: “Queria poder voar sem cair com um
tiro na asa, pois um pássaro só canta feliz sem a gaiola, e as pessoas só vivem felizes sem a
violência”.
O que me conforta é olhar em volta e sentir ainda algo preservado: famílias que convivem
em famílias; igrejas que ainda pregam o Cristo; clubes de diversão que divertem de
verdade; a natureza resistente que, embora contaminada, insiste em florescer.
E, por último, penso: “Como é viver aqui?” Não critico nem adulo... não odeio ou idolatro.
Quero apenas viver... viver feliz, mesmo com medo. Afinal, se nenhum lugar é perfeito,
fico por aqui... VIVO aqui...